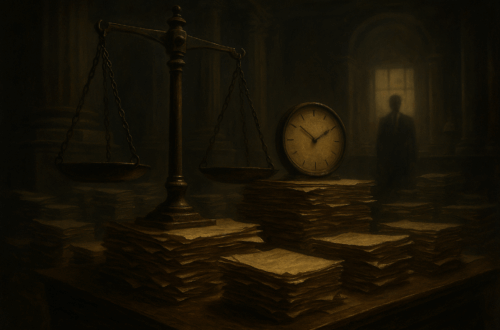Portugal: A Constituição Sagrada e a Hipocrisia Profana
- A Constituição portuguesa é tratada como “sagrada” no discurso político, mas violada quotidianamente na prática.
- Direitos constitucionais fundamentais — habitação, trabalho digno, justiça igual para todos — são sistematicamente traídos.
- Existe, na realidade, uma justiça para ricos e outra para pobres, alimentando a descrença na própria democracia.
- O discurso do “politicamente correcto” serve muitas vezes para proteger o sistema, não para o reformar.
- Sem cidadania activa e exigente, a Constituição permanece um texto bonito, recitado em cerimónias e ignorado nos bairros reais.
A Constituição Sagrada e a Hipocrisia Profana
I. O culto da “Constituição sagrada”
Há uma liturgia curiosa na democracia portuguesa: de tempos a tempos, quando alguém ousa questionar a forma como o país está organizado, levanta-se logo um coro de guardiões a lembrar que a Constituição é “sagrada”. Não se pode mexer, não se pode discutir, não se pode sequer sugerir que talvez precise de ser trazida de volta à vida real. O texto passa a estar mais próximo de um livro santo do que de um contrato político entre cidadãos adultos.
Esta sacralização não é inocente. Ao declarar a Constituição intocável, muitos querem, na verdade, torná-la intocada. Não protegida dos abusos, mas protegida da discussão. A Constituição converte-se num biombo: por trás dela, escondem-se privilégios, estruturas de poder e rotinas de dominação; à frente, exibem-se discursos inflamados sobre direitos, liberdades e garantias.
O que deveria ser um texto vivo, capaz de dialogar com a realidade e de ser exigido pelo povo, torna-se um objecto cerimonial. Usa-se em sessões solenes, em juras institucionais, em frases feitas nos telejornais. A Constituição é invocada, sim; o que quase nunca é exigido é o seu cumprimento integral, para todos, em todos os dias, em todas as esquinas do país.
II. A distância entre o texto e a vida
Se alguém ler com atenção a Constituição portuguesa, descobre um país que não existe. Um país onde todos têm direito a uma habitação condigna, a um trabalho digno, a um sistema de saúde eficaz, a uma justiça igual para pobres e ricos, a uma segurança social que não abandona ninguém. Um país onde a dignidade humana é centro e não decoração.
Agora, saímos do texto e entramos no país real: famílias a viver em quartos interiores sem janela, rendas que devoram mais de metade do salário, idosos a escolher entre medicamentos e alimentação, jovens que trabalham a recibo verde em eternos “projectos”, filas intermináveis nas urgências, processos judiciais que arrastam anos até à prescrição, crimes de colarinho branco que se evaporam em recursos sucessivos.
A violação da Constituição não acontece apenas em actos pontuais e escandalosos. Acontece na normalidade quotidiana de um Estado que falha em garantir o mínimo que prometeu. Acontece quando a pobreza é estrutural, quando o acesso à justiça depende do dinheiro disponível, quando a igualdade é uma palavra generosa em discursos e um luxo raro em tribunais.
O Estado jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas, demasiadas vezes, cumpre apenas as partes que não incomodam os donos disto tudo. O resto fica arquivado na gaveta da retórica, ao lado de tantos outros princípios “fundamentais” que só existem para ornamentar o preâmbulo das leis.
III. Justiça para ricos, justiça para pobres
Poucos temas expõem de forma tão brutal a hipocrisia institucional como o funcionamento da justiça. Na lei, somos todos iguais. Na prática, há uma justiça para quem pode pagar advogados, honorários, perícias, recursos infinitos, e outra para quem chega ao tribunal de mãos vazias e cabeça baixa, dependente de um sistema sobrecarregado que mal tem tempo para o ouvir.
O cidadão com meios escolhe o escritório certo, faz gestão cirúrgica de prazos, recorre, recorre de novo, recorre outra vez. A máquina processual torna-se um campo de batalha técnico onde quem sabe o caminho sempre encontra uma saída. Os crimes financeiros, económicos, de corrupção ou tráfico de influências navegam neste oceano de formalismos. Alguns acabam em condenação exemplar; muitos encalham em areais discretos de prescrição, nulidades, esquecimentos oportunos.
Em contrapartida, o pobre que rouba para pagar dívidas, o dependente apanhado em flagrante, o pequeno infractor apanhado ao volante sem seguro, enfrenta uma justiça rápida na condenação e lenta na reparação. Entra mais facilmente no sistema prisional do que muitos respeitáveis autores de crimes de milhões. Fica com cadastro, com marca, com rótulo. A igualdade formal perante a lei transforma-se, assim, num teatro cruel em que a posição social decide o desfecho com uma delicadeza quase invisível.
Quando isto acontece durante décadas, o dano não é apenas individual. É colectivo: a confiança na justiça esvai-se, a crença na democracia apodrece, a própria Constituição passa a ser vista como arma dos fortes e não escudo dos vulneráveis. É neste ponto que a ideia de “Estado de Direito” se torna, aos olhos de muitos, uma piada amarga.
IV. O politicamente correcto como verniz do regime
O discurso do “politicamente correcto” entra aqui como um verniz espesso. Fala-se muito em direitos humanos, inclusão, combate à discriminação, defesa das minorias. Organizam-se conferências, comissões, planos nacionais, dias internacionais. Tudo cuidadosamente alinhado com a linguagem das instituições europeias, das ONG e dos relatórios que ajudam a manter boas classificações em índices internacionais.
Mas, ao mesmo tempo, continua a haver bairros inteiros esquecidos, escolas segregadas, hospitais em ruptura, tribunais asfixiados, serviços públicos onde a dignidade é um luxo. O politicamente correcto torna-se, assim, um idioma oficial que não tem tradução na experiência concreta da maioria. E quando a linguagem oficial se separa em demasia da vida, nasce a mais perigosa das reacções: o cinismo.
O cinismo é o ácido que corrói a cidadania. O cidadão deixa de acreditar em qualquer palavra que venha “de cima”. Tanto faz se dizem Constituição, direitos, inclusão, Abril ou democracia. Tudo soa a marketing. E é neste deserto de confiança que crescem, como ervas daninhas, os projectos autoritários, os populismos rancorosos, as soluções fáceis para problemas complexos. Não porque as pessoas sejam ignorantes, mas porque estão cansadas de serem tratadas como figurantes num teatro de hipocrisia.
V. Quando a Constituição deixa de ser dos cidadãos
O ponto central é este: a Constituição portuguesa deixou de ser, para muitos, um património dos cidadãos, e passou a ser um instrumento manejado por elites políticas, jurídicas e académicas. Fala-se dela em congressos, em tribunais superiores, em gabinetes ministeriais; fala-se muito menos no local de trabalho, na escola, na rua, nos bairros onde os direitos deveriam ser mais palpáveis.
Uma Constituição que não é conhecida, discutida, apropriada pelo povo torna-se uma espécie de contrato escrito sem assinatura efectiva. Está lá, é invocado em nome de todos, mas poucos se sentem realmente parte dele. É como um quadro pendurado numa parede de museu: admirado à distância, protegido por alarmes, inacessível ao toque. Bonito, mas inútil na hora em que faltam pão, casa, justiça ou respeito.
Enquanto a Constituição não for tratada como arma cívica nas mãos dos cidadãos – e não como amuleto nas mãos dos poderosos – continuará a ser violada por quem tem meios para contornar o sistema e ignorada por quem não tem força para lhe bater à porta. O resultado é esta sensação difusa que tantas vezes se escuta em silêncio: “isto não é para nós”.
VI. Epílogo: profanar a hipocrisia, não a Constituição
O problema não está em levar a Constituição a sério. Pelo contrário: está em não a levar suficientemente a sério. Em aceitarmos que ela seja tratada como texto sagrado nas palavras, enquanto é rasgada nos factos. Em deixarmos que seja usada como escudo de conveniência e não como espelho inclemente das nossas falhas colectivas.
Talvez o gesto verdadeiramente revolucionário não seja continuar a chamá-la sagrada, mas fazer o oposto: tirá-la do altar, pousá-la em cima da mesa da cozinha, abri-la e perguntar, artigo a artigo, onde é que isto está ou não está a ser cumprido na rua onde vivemos. Deixar de a tratar como ícone e passar a tratá-la como aquilo que deveria sempre ter sido: um contrato que o povo tem o direito e o dever de exigir.
Profanar a hipocrisia institucional é o primeiro passo para honrar a Constituição de verdade. Denunciar a justiça a duas velocidades, expor o fosso entre os direitos escritos e a vida concreta, recusar a linguagem vazia do politicamente correcto quando ela serve apenas para adiar mudanças reais. Só assim, talvez, um dia, possamos viver num país em que invocar a Constituição não soe a piada interna entre poderosos, mas a grito legítimo de quem sabe que, por detrás das palavras, há uma promessa que ainda pode ser cumprida.
Até lá, continuaremos a assistir ao mesmo ritual: cerimónias solenes, juras públicas, discursos inflamados. A Constituição continuará a ser apresentada como sagrada. E o povo continuará a vê-la, com uma lucidez amarga, como aquilo que o sistema fez dela: um texto belíssimo, traído diariamente pelos que mais alto juram defendê-lo.