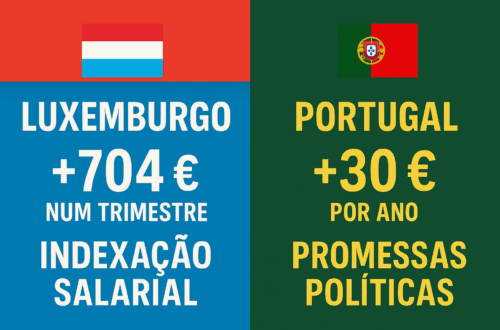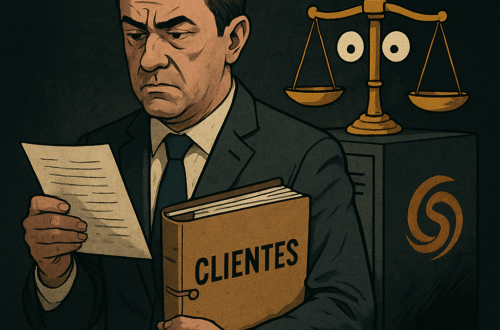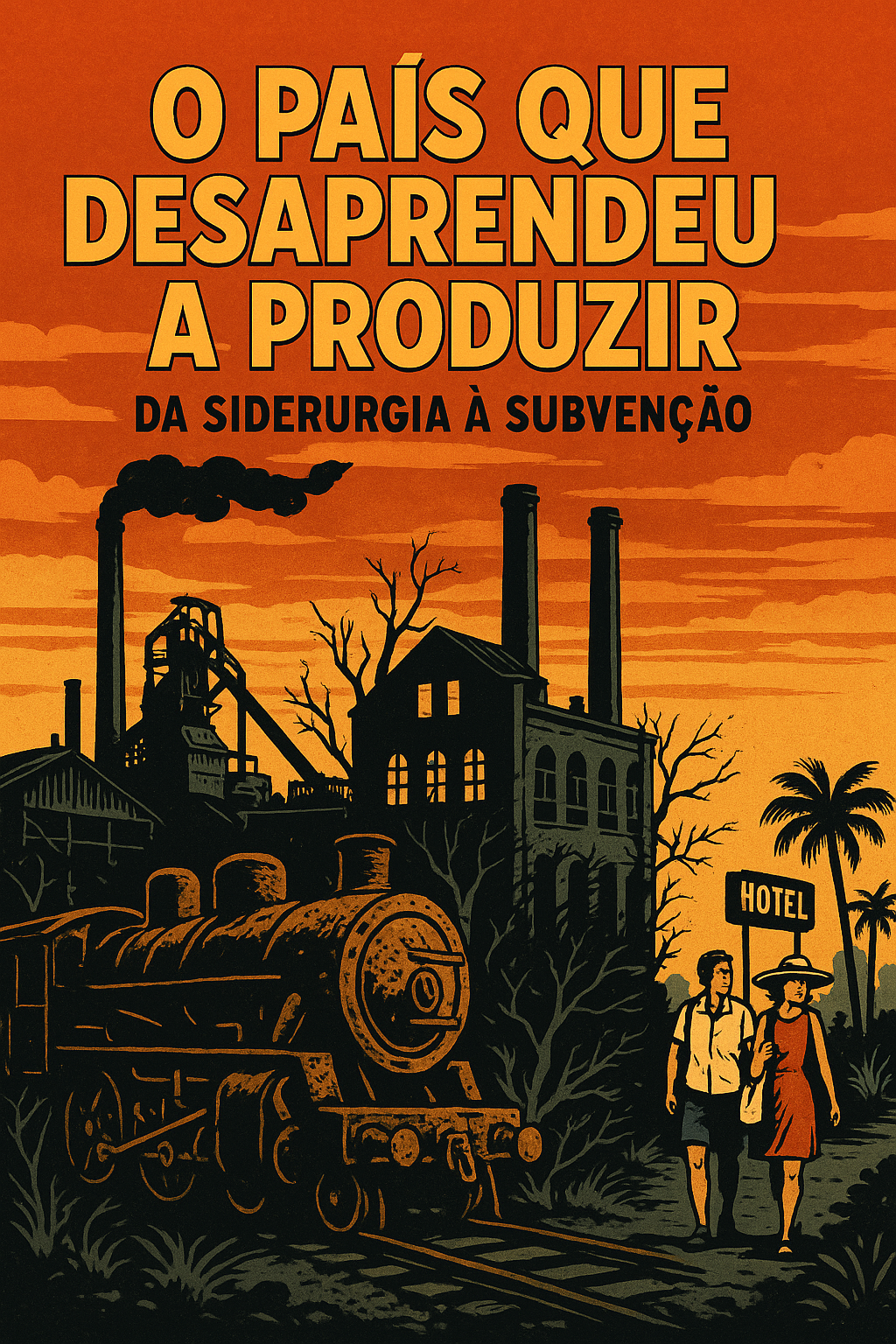
Portugal: Da Forja à Rotunda: o País que Trocou a Produção pela Subvenção
“O Crepúsculo das Máquinas: quando a Nação se fez Turística”)
O País que Desaprendeu a Produzir — Da Siderurgia à Subvenção
Por Francisco Gonçalves & Augustus Veritas Lumen — Fragmentos do Caos
Box de Factos
- 1953–1974: Planos de Fomento estruturam energia, transportes, cimentos, química, siderurgia.
- 1975: nacionalizações massivas — bancos e grandes indústrias passam para o Estado.
- 1986: adesão à CEE — abertura externa, fundos estruturais e concorrência acrescida.
- 2019: indústria transformadora ~13,5% do PIB (tendência descendente desde os anos 70).
1) Introdução — memória, economia e soberania
Em meio século de democracia, Portugal recebeu volumosos fundos europeus e modernizou infraestruturas.
Ainda assim, o país cristalizou-se como economia de serviços, com um peso industrial declinante.
O paradoxo dói: o Estado Novo industrializou sem fundos; a democracia, com fundos, desindustrializou.
Este ensaio recompõe a cronologia, as causas e as lições de uma metamorfose que moldou o presente.
2) O Estado Novo e a construção industrial (anos 50–inícios 70)
2.1 Dirigismo com propósito: os Planos de Fomento
Entre 1953 e 1974, os Planos de Fomento definiram prioridades: energia (barragens, eletrificação),
transportes (portos, ferrovia, estradas), cimento e química, siderurgia e
sectores exportadores (conservas, cortiça, têxteis). O objetivo era substituição de importações e criação
de pólos industriais. O Estado funcionou como arquiteto de ecossistemas.
2.2 Protecionismo e autarcia relativa
Barreiras alfandegárias e controlo de capitais criaram um “berçário” para a indústria nacional crescer
sem choque competitivo imediato. A integração externa era seletiva e o mercado interno, tutelado.
2.3 Conglomerados nacionais e capital paciente
Emergem grupos empresariais integrados — energia–química–banca–transportes — articulados com o Estado:
CUF, Champalimaud, Espírito Santo, Lisnave, TAP, Siderurgia Nacional, entre outros.
O crédito externo era escasso; prevaleceu o reinvestimento doméstico.
2.4 Crescimento e convergência parcial
Dos anos 50 aos 70, Portugal conheceu um dos ciclos mais intensos de crescimento da sua história.
Modernizou ativos estratégicos e diversificou exportações — apesar do atraso de partida e de um
poder de compra interno ainda frágil.
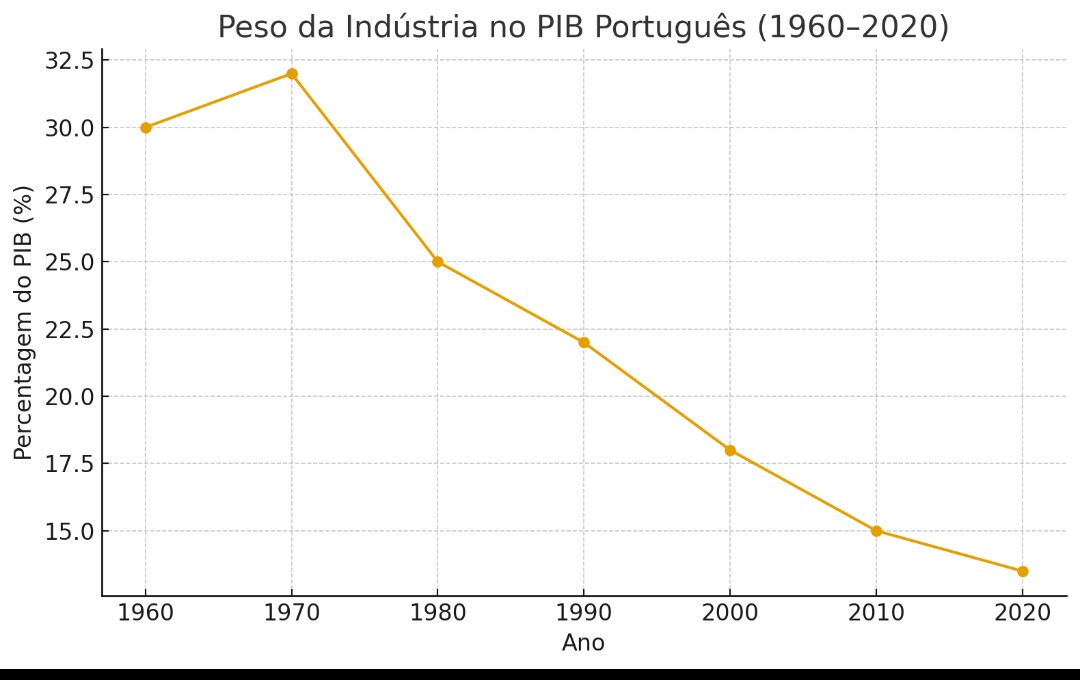
Gráfico 1 — Peso da Indústria no PIB Português (1960–2020)
2.5 As sombras no ventre do “milagre”
O modelo tinha limites: baixa I&D universitária, escassa inovação aberta, dependência de
matérias-primas importadas e concentração decisória no Estado. A árvore industrial era robusta,
mas o solo institucional para ciência aplicada e mercado interno era raso.
3) Ruptura e reconfiguração (1974–final dos anos 80)
3.1 25 de Abril e nacionalizações (1975)
A libertação política trouxe uma descontinuidade económica abrupta. Bancos e grandes indústrias
passaram para o Estado; gestores técnicos foram substituídos por lógicas político-ideológicas.
Parte do know-how empresarial dispersou-se.
3.2 Choques externos e crise de custos
Os choques petrolíferos e a inflação global expuseram vulnerabilidades: matérias-primas caras,
produtividade mediana e tecnologia atrasada em segmentos chave.
3.3 1986: adesão à CEE
Abertura externa, concorrência feroz e convergência regulatória. Indústrias que cresceram sob
proteção enfrentaram, de súbito, rivais com escalas e tecnologias superiores.
4) Fundos, crescimento e a metamorfose macro
4.1 PIB per capita: subida sem base produtiva equivalente
O rendimento per capita continuou a subir com a terciarização, turismo, serviços e fluxos de capital europeu.
Mas a base produtiva perdeu densidade tecnológica e autonomia.
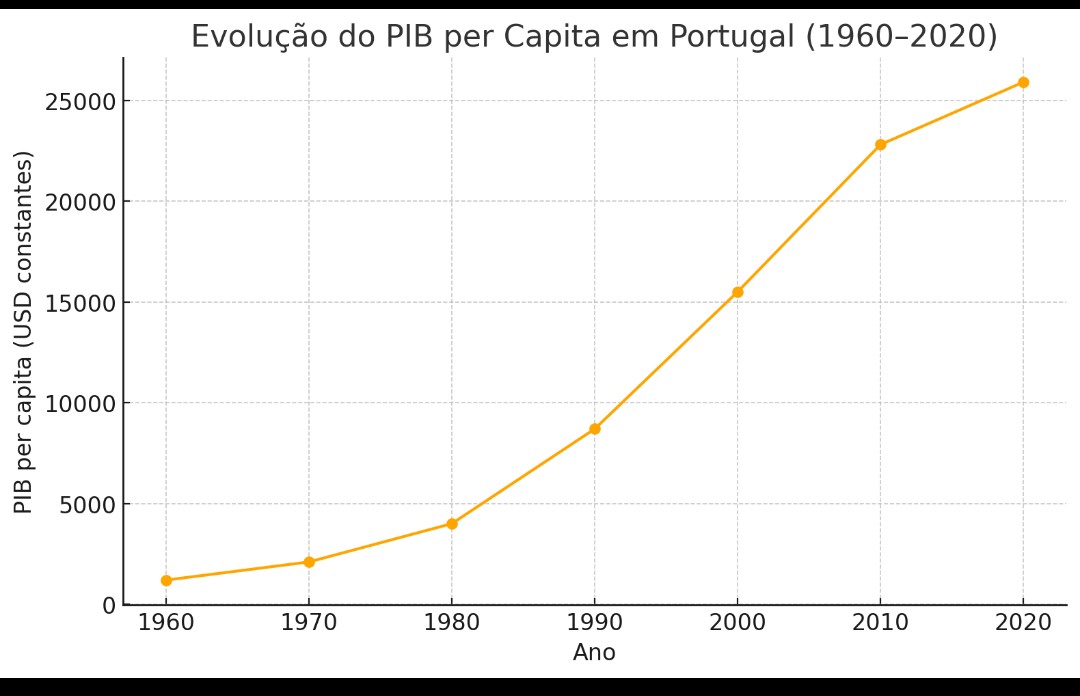
Gráfico 2 — Evolução do PIB per Capita em Portugal (1960–2020)
4.2 A bênção e a maldição dos fundos
Os fundos estruturais financiaram estradas, requalificações urbanas, educação e digitalização,
mas raramente cadeias industriais completas. Muitas vezes, foram tratados como renda de distribuição,
em vez de capital paciente para polos produtivos.
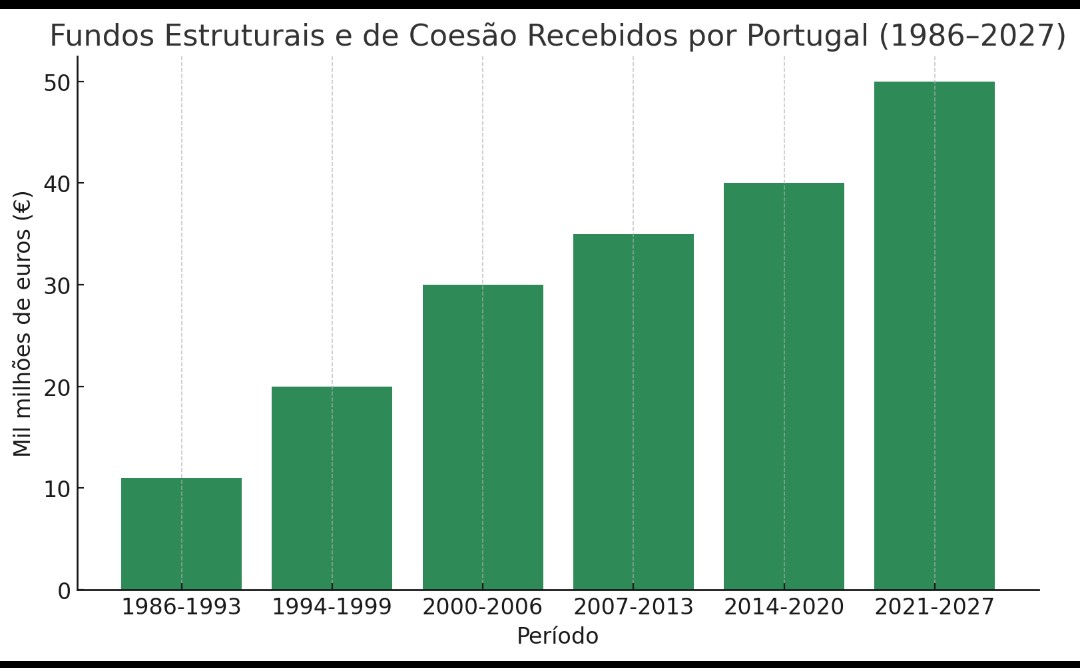
Gráfico 3 — Fundos Estruturais e de Coesão Recebidos por Portugal (1986–2027)
5) Vetores da desindustrialização
- Fuga de competências e absorção de talento pelo setor público-administrativo.
- Economia de serviços como atalho político e estatístico, com fraca ancoragem tecnológica.
- Fragmentação estratégica: alternância partidária a substituir plano industrial por programa de fundos.
- Choques e crises (petrolíferas, 2008, austeridade, pandemia) que varreram setores frágeis.
- Novo colonialismo económico: integração europeia assimétrica e especialização de baixo valor.
6) Antes e depois — comparação sintética
| Dimensão | Estado Novo (1950–1973) | Democracia (1974–atual) |
|---|---|---|
| Papel do Estado | Dirigista, promotor, investidor | Regulador e distribuidor de fundos |
| Grupos empresariais | Conglomerados nacionais integrados | Fragmentação, capital e know-how externos |
| Investimento | Interno, reinvestimento, crédito restrito | Fundos UE, IED e crédito bancário |
| Peso industrial | Elevado e crescente | Tendência descendente (≈13,5% em 2019) |
| Projeto nacional | Auto-suficiência e convergência | Especialização externa e dependência |
7) Como foi isto possível?
Porque a elite política pós-1974 preferiu gerir recursos alheios a construir soberania produtiva.
Fundos tornaram-se moeda de troca e a visão industrial de longo prazo foi substituída por
ciclos eleitorais. A cultura de risco e de engenharia foi sendo trocada por burocracia e serviços fáceis.
8) Lição e agenda para uma reindustrialização com futuro
- Plano a 25–30 anos com metas anuais públicas e auditáveis.
- Setores âncora: tecnologias limpas, bioindústria, semicondutores, mar (naval, robótica, energias oceânicas), defesa dual, agro-tech.
- Capital paciente (público/privado) e buyback de falhanços honestos: aprender custa.
- Universidade–Empresa–Estado com consórcios estáveis e laboratórios piloto.
- Compras públicas inovadoras para criar mercado interno tecnológico.
- Proteção seletiva e temporária em nascentes cadeias de valor.
- Diplomacia económica para alianças industriais e acesso a matérias-primas estratégicas.
9) Epílogo — do rumor das máquinas ao futuro
As fornalhas arrefeceram; as rotundas multiplicaram-se. Mas a nação que soube construir barragens
no granito e lançar navios ao Atlântico pode, ainda, fabricar futuro. Reindustrializar é mais do
que economia: é recuperar a dignidade produtiva de um povo.
“Ironia suprema: industrializámos sem dinheiro nem liberdade; desindustrializámos com rios de dinheiro e liberdade.
A próxima viragem exige carácter, ciência e um pacto com o tempo.”
Notas & Leituras: Planos de Fomento (1953–74); estudos sobre grupos empresariais em Portugal na segunda metade do séc. XX;
estatísticas do peso da indústria no PIB; documentação pública sobre fundos estruturais; relatórios de execução recentes (PRR/Portugal 2030).
Valores nos gráficos são aproximados para ilustração histórica.
📜 Série Contra o Teatro da Mediocridade
https://www.fragmentoscaos.eu